Submarinos da Marinha do Brasil são peça‑chave da defesa no Atlântico Sul. Com o PROSUB, o país avança em construção, tecnologia e autonomia.
Neste guia, explicamos a evolução da frota, a Classe Riachuelo (S-BR), o Submarino Nuclear Álvaro Alberto, operações, custos e o que vem pela frente.
História e evolução dos submarinos da Marinha do Brasil
Tópicos

- 1 História e evolução dos submarinos da Marinha do Brasil
- 2 Programa PROSUB de submarinos: bases, parcerias e transferência de tecnologia
- 3 Classe Riachuelo (S-BR): capacidades, sensores e armamentos
- 4 Submarino Nuclear Álvaro Alberto: cronograma, segurança e impacto estratégico
- 5 Operações dos submarinos no Atlântico Sul: missões, treinamento e logística
- 6 Custos, benefícios e perspectivas futuras dos submarinos brasileiros
- 7 FAQ – Submarinos da Marinha do Brasil e o PROSUB
- 7.1 Qual é o efeito real dos submarinos na dissuasão do Brasil em tempos de paz?
- 7.2 Em termos práticos, o que a Classe Riachuelo (S-BR) traz de diferente em relação aos Tupi/Tikuna?
- 7.3 Por que o Brasil não adotou AIP (propulsão independente de ar) nos S-BR?
- 7.4 Para que serve, afinal, um submarino nuclear e por que o Álvaro Alberto é estratégico?
- 7.5 O PROSUB entregou de fato transferência de tecnologia ou ficamos montando kits?
- 7.6 Quanto custa manter um submarino e como se planeja esse ciclo de vida?
Em 1942, o litoral brasileiro virou frente de batalha silenciosa. Sob as ondas, U-boats alemães caçavam mercantes, enquanto comboios escoltados ziguezagueavam entre Recife e o Caribe. Foi aí que a Marinha consolidou uma lição que atravessa décadas: no mar, quem não vê primeiro, vira notícia tarde demais. A guerra anti-submarino, com hidroaviões aliados, escoltas e sonar ainda rudimentar, moldou doutrina, criou rotinas de escolta e abriu caminho para a profissionalização de um braço discreto, mas decisivo: os Submarinos da Marinha do Brasil.
No pós-guerra, a Guerra Fria trocou tiros por tecnologia. Chegaram unidades diesel-elétricas de origem estrangeira, fruto de acordos e do próprio rearranjo geopolítico. Foi o tempo de aprender com casco emprestado, traduzindo manuais, adaptando táticas às correntes do Atlântico Sul e às nossas costas longas, cheias de pontos cegos e de interesses dispersos. Nada glamouroso: muito exercício, paciência em mar grosso e uma cultura de silêncio operacional que, para quem vê de fora, parece mistério; para quem serve, é sobrevivência.
A virada industrial começou na década de 1970 e ganhou corpo nos anos 1980, quando a parceria com a Alemanha trouxe a família Type 209 e a formação da chamada classe Tupi. Ali, o Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro virou sala de aula e chão de fábrica. Cada casco montado era também uma aula de engenharia naval, solda, sistemas de combate e integração de sensores. No fim dos anos 1990 e início dos 2000, o Tikuna chegou como evolução: experiência acumulada, autonomia crescente e o recado claro de que a frota submarina brasileira não desejava só operar, mas também dominar o ciclo de construção e manutenção.
O salto estratégico veio no final dos anos 2000 com o PROSUB, um programa que combinou transferência de tecnologia, construção de estaleiro e base em Itaguaí e um pacote completo de capacitação. As unidades da Classe Riachuelo (S-BR), derivadas de um projeto francês, foram tropicalizadas com ambição: casco alongado, maior autonomia, integração fina de sonar, mísseis e torpedos para as nossas condições de corrente, salinidade e perfil de missão. Mais que navios, nasceram competências. Em torno dos cascos, uma cadeia de fornecedores nacionais, laboratórios e escolas técnicas aprendeu a falar o “dialeto” da guerra submarina.
No horizonte, o Submarino Nuclear Álvaro Alberto simboliza a maturidade de um projeto de Estado. Propulsão nuclear não é fetiche tecnológico; é permanência no teatro de operações, velocidade sustentada e dissuasão em uma área marítima que chamamos de Amazônia Azul. Sim, dá trabalho e exige décadas de pesquisa, segurança rigorosa e gente muito bem treinada. Não é coisa de filme de espião: é uma corrida de resistência, com auditoria, ciência e método. O objetivo é claro — garantir que, quando um ativo estratégico estiver em risco, haja um casco invisível por perto para lembrar ao interessado que o Brasil sabe defender o que é seu.


Entre a memória de comboios em 1943 e a doca seca de Itaguaí hoje, a linha do tempo dos Submarinos da Marinha do Brasil mostra uma transição do “comprar pronto” para o “fazer com competência”. Isso se traduz em operações discretas no Atlântico Sul, em exercícios com marinhas parceiras, na proteção de rotas do petróleo do pré-sal e de cabos submarinos, e, claro, em debates públicos sobre custos e benefícios, que abordam desde soberania até geração de empregos qualificados. Em linguagem popular: submarino é aquele investimento que não aparece na foto, mas cuja ausência vira manchete no dia errado. E mar calmo, já se sabe, não faz bom submarinista.
Programa PROSUB de submarinos: bases, parcerias e transferência de tecnologia
Em 2008, o Brasil trocou o “carimbo de comprador” pelo passaporte de nação construtora: nascia o PROSUB, um acordo com a França que juntou estaleiro, base naval e um pacote de capacitação para erguer uma geração inédita de Submarinos da Marinha do Brasil. Não era só a encomenda de quatro unidades convencionais e o embrião de um casco nuclear; era a compra de tempo e de saber. Transferência de tecnologia aqui não é slogan: significa aprender a modelar chapas de aço de alta resistência, dominar soldas críticas do casco resistente, integrar sensores e sistemas de combate e, sobretudo, formar gente — engenheiros, projetistas, mestres de oficina e tripulações — capaz de replicar o processo sem “manual de instruções estrangeiro” grudado na prancheta.
O Complexo Naval de Itaguaí virou o palco principal dessa peça de longo curso. A UFEM fabrica estruturas metálicas com precisão milimétrica; o Estaleiro e Base Naval integra blocos, instala mastros optrônicos, sonares, baterias e todo um ecossistema elétrico que faria corar qualquer oficina de bairro. O consórcio local, com a Itaguaí Construções Navais, articula-se com a NUCLEP e uma cadeia de fornecedores que vai do parafuso certificado à eletrônica fina. É história industrial em tempo real: cada mock-up montado, cada seção do casco girada pelos pórticos, é parte de uma lição cara e necessária sobre como transformar projeto em navio e navio em dissuasão no Atlântico Sul.
No plano institucional, o PROSUB é filho de uma era em que defesa virou política de Estado — e não de governo. Isso não blindou o programa de tropeços: investigações, reestruturações societárias e a maré econômica apertaram o cronograma, enquanto a pandemia acrescentou atrasos que nenhum almanaque previa. A resposta veio em forma de governança: contratos readequados, auditorias mais rígidas, compliance na veia. É o tipo de lição que não rende foto bonita, mas evita “barulho” no porão do orçamento e ajuda a manter a cadência de entregas. No fim do dia, estratégia é também perseverança, e submarino não se faz em ano eleitoral.
Do lado operacional, os frutos são palpáveis. A Classe Riachuelo (S-BR), derivada de projeto francês e “tropicalizada” para a nossa Amazônia Azul, combina autonomia ampliada, integração de sonar de casco e flanco, mastro optrônico, suíte de guerra eletrônica e armamento lançado por tubo — torpedos pesados, mísseis antinavio e, quando a missão pede, minas. O que se vê não é apenas um produto; é um processo: simuladores formando tripulações, doutrina refinada em exercícios com marinhas parceiras e manutenção planejada para reduzir a velha dependência de peças importadas que costumavam ficar presas em aduanas e anedotas.
O capítulo nuclear — o Submarino Nuclear Álvaro Alberto — traz uma camada de complexidade digna de tese. A parceria internacional parou na borda do reator, como manda a cartilha geopolítica; o coração da propulsão nasceu no Brasil, no esforço científico do CTMSP e do laboratório em terra (LABGENE) em Iperó. Por que insistir nisso? Porque permanência submersa e velocidade sustentada mudam o jogo da dissuasão, especialmente em uma costa extensa, recortada e recheada de ativos estratégicos do pré-sal a cabos submarinos. Não é sprint; é maratona com checklist de segurança: salvaguardas, cultura nuclear madura e treinamento até o último parafuso. Humor a bordo? Só o suficiente para lembrar que “quem tem pressa bebe água salgada”.
No balanço histórico, o PROSUB reencaixa o Brasil na tradição de países que aprenderam a fazer por conta própria. Deixa legado para além dos cascos: capacita universidades, puxa inovação em materiais, cria empregos qualificados e dá musculatura à indústria naval militar. E, claro, fortalece a capacidade de emprego discreto dos Submarinos da Marinha do Brasil no teatro que realmente importa: o mar escuro, onde ver sem ser visto vale mais do que qualquer desfile. Em linguagem de cais: é o tipo de investimento que, quando funciona, ninguém percebe — e é justamente assim que deve ser.
Classe Riachuelo (S-BR): capacidades, sensores e armamentos
Setenta metros de aço e silêncio podem mudar a balança de poder de um litoral inteiro. A Classe Riachuelo (S‑BR), coluna vertebral recente dos Submarinos da Marinha do Brasil, nasceu alongada e adaptada para as nossas águas, com foco claro: operar longe, ouvir fundo e aparecer apenas quando interessa. A fórmula é mais disciplina do que mágica: casco com revestimentos anecoicos, linhas pensadas para reduzir ruído, propulsão diesel‑elétrica sem AIP — aqui, autonomia é gestão fina de energia e doutrina bem treinada. No Atlântico Sul, onde correntes, salinidade e batimetria variam como novela das nove, esse conjunto dá ao comandante a ferramenta certa para a missão essencial da guerra submarina: ver sem ser visto.
Os sentidos do Riachuelo foram calibrados para esse jogo de paciência. A suíte de sonar integra sensores de casco e de flanco, arrays que “escutam” em diferentes faixas, detectores de interceptação para captar quem tenta bisbilhotar e processamento que cruza tudo isso no sistema de combate — o cérebro que ajuda a separar baleia de hélice e ruído de pista real. Nos mastros, o periscópio cede lugar a optrônicos modernos, que sobem, observam e descem rápido, sem deixar muito rastro. Guerra eletrônica, comunicações seguras e navegação inercial completam o quadro. É tecnologia, sim, mas também cultura operacional: reduzir exposição, medir cada segundo à cota periscópica e, se possível, transformar a curiosidade do adversário em simples estática.
Quando chega a hora de falar alto, o Riachuelo não gagueja. Torpedos pesados lançados por tubo fazem o trabalho clássico, com ogivas e guiagem à altura do século XXI; mísseis antinavio lançados de dentro do casco ampliam o raio de ação, permitindo bater sem se aproximar demais; e a minagem, menos glamourosa, impõe incerteza a rotas e gargalos estratégicos. Tudo isso é calibrado por simulação e exercício: antes de um disparo real, há centenas de horas de tática, tiro virtual e manutenção preventiva. Em termos de dissuasão, poucos sinais são tão claros quanto a possibilidade — mesmo não confirmada — de um alvo estar na mira. No mar, quem não ouve primeiro costuma não ter a última palavra.
Comparado às gerações Type 209 que formaram a classe Tupi e o Tikuna, o salto não está só no catálogo. A automação reduz fadiga de tripulação, a integração de sensores diminui o tempo entre detectar e decidir, e a manutenção planejada corta a velha dependência de peça que “vem de fora e para na alfândega”. Na prática, os Submarinos da Marinha do Brasil ganham resiliência para tarefas que importam: patrulhar a Amazônia Azul, proteger rotas do pré‑sal, treinar com marinhas parceiras e manter, nos bastidores, a capacidade de negação de área que dá substância à nossa estratégia marítima.
Há, por fim, o elo com o futuro nuclear. A Classe Riachuelo é escola flutuante: forma gente, amadurece cadeia logística e cria confiança para integrar sistemas complexos em casco nacional. Funciona como ponte entre a experiência acumulada desde a Segunda Guerra e o projeto do Submarino Nuclear Álvaro Alberto, que acrescentará permanência e velocidade sustentada ao repertório. Em linguagem de cais: o S‑BR é o trabalhador que chega cedo, faz o serviço direito e vai embora sem alarde — e é justamente por isso que, estrategicamente, vale cada hora de doca e cada parafuso homologado.
Submarino Nuclear Álvaro Alberto: cronograma, segurança e impacto estratégico

Capaz de permanecer semanas submerso sem “vir à tona para respirar”, um submarino de propulsão nuclear muda a gramática do poder marítimo. O Submarino Nuclear Álvaro Alberto insere os Submarinos da Marinha do Brasil numa liga em que permanência, velocidade sustentada e imprevisibilidade viram ferramentas de dissuasão. Não é glamour tecnológico; é método: reduzir a necessidade de snorkel, preservar o silêncio, cobrir rapidamente grandes distâncias no Atlântico Sul e operar onde e quando a ocasião exige, do entorno do pré-sal às rotas que cortam a nossa Amazônia Azul. Em termos de história naval, é a passagem do fôlego curto para a respiração de maratonista — e, convenhamos, quem dita o ritmo debaixo d’água dita a conversa na superfície.
O caminho até lá foi desenhado em etapas, como convém a empreitada séria. Primeiro, o cérebro e o coração: pesquisa, projeto e prototipagem do reator em terra, no LABGENE, sob a batuta do CTMSP, a partir de Iperó. Em paralelo, Itaguaí e a NUCLEP trabalham o corpo: seções de casco, integração de sistemas, aprendizado industrial acumulado com a classe convencional. Só depois de validar o reator em ambiente controlado é que se casa a propulsão nuclear ao navio — e daí vêm testes de cais, provas de mar e, por fim, o comissionamento. É um cronograma escalonado, com marcos técnicos que precisam “clicar” na ordem certa. Quem espera um atalho vai se decepcionar: átomo e mar não são micro‑ondas; não dá para apertar start e servir no jantar.
Segurança não é apêndice; é o esqueleto do projeto. Cultura nuclear, licenciamento com a CNEN, salvaguardas que passam por acordos e mecanismos como ABACC e AIEA, gestão de risco radiológico, escolta de combustível, protocolos de emergência — tudo entra antes da tinta no casco. A tripulação treina até a exaustão: procedimentos redundantes, checklists e simulações que fariam um piloto de linha aérea suar a camisa. Não se trata de transformar navio em laboratório ambulante; é justamente o contrário: trazer a previsibilidade de laboratório para dentro de um navio de guerra. A piada de cais diz que “o melhor vazamento é o que nunca existiu”; por trás do humor, uma regra de ferro: no nuclear, erro pequeno vira história grande.
E qual o efeito estratégico? Permanência submersa prolongada embaralha o cálculo de qualquer potencial adversário. Com propulsão nuclear, cresce a capacidade de negar área, proteger linhas de comunicação marítima, cobrir plataformas do pré-sal e acompanhar discretamente alvos de interesse. A coordenação com a Classe Riachuelo (S‑BR) e com aviação de patrulha amplia o raio de ação e cria camadas de vigilância e resposta. Comunicação de baixa probabilidade de interceptação, sensores refinados e doutrina paciente fazem o resto. É o pacote completo de dissuasão: você não precisa provar que está lá o tempo todo; basta que a possibilidade seja crível. No mar, incerteza bem cultivada é metade da vitória.
No plano doméstico, o projeto alavanca gente e indústria. O ciclo do combustível, a metalurgia de precisão, a integração de sistemas e a manutenção especializada retêm cérebros, puxam universidades e estabilizam uma cadeia de fornecedores que não vive só de encomenda de ocasião. Há o debate legítimo sobre custo e prioridade — e deve haver, porque democracia madura discute seus grandes projetos —, mas o saldo estratégico é claro: incorporar propulsão nuclear aos Submarinos da Marinha do Brasil dá ao país autonomia decisória e credibilidade operacional. Em linguagem de porto: é caro, demora e exige paciência; justamente por isso, quando fica pronto, muda a conversa.
Operações dos submarinos no Atlântico Sul: missões, treinamento e logística
No Atlântico Sul, a melhor arma é o silêncio disciplinado. É assim que a Força de Submarinos, a partir de Itaguaí, conduz o dia a dia dos Submarinos da Marinha do Brasil: missões discretas de inteligência, vigilância e reconhecimento, o famoso tripé ISR, intercaladas com patrulhas de negação de área e escoltas invisíveis a ativos sensíveis do pré-sal. O teatro é vasto, entre a Baía de Sepetiba e as rotas que cortam a Amazônia Azul; a regra, imutável desde os tempos de U‑boats e comboios, é ver sem ser visto. De fora, parecer rotineiro; por dentro, cada metro de profundidade é cálculo fino de corrente, salinidade, ruído de fundo e oportunidade tática.
Esse resultado nasce de adestramento metódico. Tripulações passam por simuladores de combate, laboratórios de sonar e procedimentos de emergência que ensinam a pensar como o oceano “soa”. A classificação de contatos — separar hélice de pesqueiro de hélice de fragata — exige ouvido treinado e paciência cartorial: uma assinatura acústica é um RG marinho. O periscópio virou mastro optrônico, mas a velha etiqueta permanece: subir rápido, observar o necessário, baixar sem alarde. Em paralelo, regras de engajamento, comunicações de baixa probabilidade de interceptação e exercícios com aviação de patrulha (P‑3AM) e helicópteros navais (SH‑16) afinam a coreografia conjunta. Se faltar poesia, sobra método; e método, no mar, rende mais resultado que bravata de convés.
Logística é o lado menos fotogênico — e o mais decisivo. No Complexo Naval de Itaguaí, o ciclo de vida dita o ritmo: docagens programadas, troca e condicionamento de baterias, inspeções de casco resistente, recalibração de sonares, testes de estanqueidade, reabastecimento de torpedos e mísseis, tudo sob protocolos de segurança que não admitem improviso. Cada janela de maré, cada puxada de guindaste, cada checklist é parte de uma coreografia industrial que permite sair para o mar com confiabilidade. A piada de cais diz que “submarino contente é o que tem manutenção em dia”; por trás do humor, uma lição antiga: disponibilidade é poder.
Em operação, a rotina oscila entre o invisível e o pedagógico. Há dias de coleta de sinais próximos a rotas de interesse, outros de acompanhamento de alvos simulados em exercícios como UNITAS ou IBSAMAR, quando as Submarinos da Marinha do Brasil treinam contra contramedidas de marinhas parceiras e testam táticas de guerra antissubmarino e antissuperfície. Há ainda cenários de inserção de forças especiais — o GRUMEC — por meio de botes infláveis sob cobertura da noite, prática tão antiga quanto eficaz. Tudo somado, o recado estratégico é simples e elegante: a incerteza bem cultivada desestimula a aventura. E, no fim das contas, o melhor disparo continua sendo aquele que ninguém ouviu chegar.
Custos, benefícios e perspectivas futuras dos submarinos brasileiros
Numa planilha sincera, o preço de um submarino começa no casco e termina décadas depois, no descomissionamento. Em defesa, a conta nunca para no batente da doca: há CAPEX para construir e OPEX para manter, treinar e modernizar. O ciclo de vida, que pode passar de trinta anos, inclui docagens, trocas de baterias, revisões de sensores, atualização de software de combate e o inevitável mid‑life upgrade. É por isso que os Submarinos da Marinha do Brasil exigem previsibilidade orçamentária: sem rotina de manutenção e peças sobressalentes, até o casco mais moderno vira peça de museu antes da hora. Em Itaguaí, a infraestrutura do PROSUB — UFEM, Estaleiro e Base — foi pensada justamente para reduzir custo transacional, internalizar conhecimento e encurtar a fila de importações que, não raro, emperravam na alfândega e no calendário político.
O benefício, porém, não é apenas metal e parafuso. Submarino é dissuasão: protege rotas, plataforma do pré‑sal e cabos submarinos na Amazônia Azul, embaralhando o cálculo de qualquer aventureiro no Atlântico Sul. É também indústria e gente: forma engenheiros, puxa a cadeia de fornecedores, estimula universidades e cria empregos qualificados que não desaparecem quando a maré baixa. A Classe Riachuelo (S‑BR) é o exemplo didático: cada sensor integrado, cada painel elétrico homologado, cada solda do casco resistente consolida competências que ficam no país. Em linguagem de cais: submarino bom é aquele que não vira manchete — porque cumpriu a missão sem alarde —, mas seu efeito difuso aparece no PIB tecnológico e na soberania de decisão.
Olhando para frente, a agenda combina prudência e ambição. No horizonte convencional, há espaço para baterias de íon‑lítio, automação mais eficiente, mastros optrônicos com melhor consciência situacional e manutenção preditiva baseada em dados — tudo para aumentar disponibilidade sem subir a conta. O emprego de UUVs (veículos submarinos não tripulados) acoplados à doutrina de minagem e reconhecimento pode ampliar alcance a custo marginalmente menor. No eixo nuclear, o Submarino Nuclear Álvaro Alberto é a peça que muda o tempo do jogo — permanência submersa e velocidade sustentada —, exigindo, por óbvio, salvaguardas e cultura de segurança que já vinham sendo maturadas. Parcerias sul‑sul, exercícios como UNITAS e IBSAMAR e a cooperação técnico‑industrial mantêm a régua alta, sem confundir modernização com corrida armamentista.
Resta a pergunta que não cala no plenário nem no boteco: cabe no bolso? A resposta honesta passa por governança. Regras claras de aquisição, life‑cycle cost na origem do contrato, auditoria independente, estoques de sobressalentes dimensionados e cadência de entregas que não forcej a curva de aprendizado. Transparência com o contribuinte não é luxo; é seguro institucional. Em uma democracia, discutir prioridades é sinal de saúde, e os Submarinos da Marinha do Brasil só se justificam quando o custo é amparado por benefício estratégico: dissuadir, proteger ativos nacionais e manter autonomia tecnológica que não se compra pronta na prateleira.
Em síntese de professor — com giz na mão e mar no olhar —, o preço é alto, mas a ausência sai mais cara. Soberania não tem aplicativo; precisa de casco, gente e método. Se o orçamento é o barulho, a estratégia é o silêncio bem executado. E, no fim do dia, é esse silêncio que mantém a conversa sob controle na superfície.
A história dos Submarinos da Marinha do Brasil é, no fundo, um capítulo da longa formação brasileira: quando Estado, ciência e indústria caminham juntos, o país deixa de comprar tempo alheio e passa a fabricar o próprio futuro. A memória dos comboios de 1942 e o aço moldado em Itaguaí não contam apenas uma saga militar; expõem escolhas de sociedade. Ao decidir por uma força submarina moderna — convencional e nuclear — o Brasil seleciona prioridades: educação técnica, laboratórios, cadeias produtivas longas, governança que sobrevive ao calendário político e uma ideia madura de defesa que não cabe em desfile. Cada casco lançado é um pacto com a autonomia; cada manutenção bem feita é uma lição sobre rotina e método em um país que, não raro, cultiva improviso como virtude.
No plano político, submarinos exigem mais do que verbas: pedem transparência, controle democrático e sobriedade estratégica. A dissuasão que protege a Amazônia Azul e o pré-sal não pode virar fetiche tecnológico, nem pretexto para opacidade orçamentária. O programa só se justifica quando transforma imposto em conhecimento, emprego qualificado e credibilidade internacional; e quando reconhece, com rigor quase monástico, as obrigações de segurança — do nuclear à logística mais banal —, incluindo a responsabilidade ambiental com o mar que nos sustenta. Em termos sociais, trata-se de mobilidade real: formar técnicos, engenheiros e tripulantes que carregam, na ponta do lápis e do torno, uma ideia de país que não terceiriza seu destino.
Estratégia, porém, não é grito de guerra: é silêncio competente. Submarinos operam na penumbra por uma razão simples — incerteza bem gerida impede aventuras e compra paz ao preço da vigilância. O risco é confundir prudência com inércia, ou investimento com bravata. O teste histórico virá na prosa miúda do ciclo de vida: manter cadência, atualizar sistemas, proteger dados, cooperar sem subalternidade e, sobretudo, educar gerações que mantenham a competência viva quando os holofotes se apagarem. A pergunta que fica é menos bélica e mais cívica: que país queremos ver refletido no casco que não aparece? Se a resposta for soberania com ciência, ética e prestação de contas, então o silêncio dos nossos submarinos dirá, lá embaixo, o que precisamos ouvir cá em cima.
FAQ – Submarinos da Marinha do Brasil e o PROSUB
Qual é o efeito real dos submarinos na dissuasão do Brasil em tempos de paz?
A força submarina opera como um seguro estratégico silencioso. Na Segunda Guerra, comboios no Atlântico mostraram que quem enxerga primeiro dita o ritmo. Hoje, os Submarinos da Marinha do Brasil patrulham rotas do pré-sal, cabos submarinos e áreas sensíveis da Amazônia Azul, introduzindo incerteza no cálculo de qualquer ator externo. Essa dúvida — “há um casco me observando?” — já é meio caminho para evitar aventuras. É poder discreto: não precisa aparecer no jornal para cumprir a missão.
Em termos práticos, o que a Classe Riachuelo (S-BR) traz de diferente em relação aos Tupi/Tikuna?
O salto está na integração e na autonomia de decisão. O S-BR combina sonar de casco e de flanco, processamento mais robusto, mastro optrônico no lugar do periscópio clássico e automação que reduz fadiga da tripulação. Sem AIP, trabalha com gestão de energia e doutrina refinada para alongar o tempo útil submerso. Na prática, detecta melhor, decide mais rápido e expõe menos o casco. É a evolução de décadas de lições, da era Type 209 à tropicalização do projeto atual.
Por que o Brasil não adotou AIP (propulsão independente de ar) nos S-BR?
AIP é valioso em certos cenários, mas tem custos, complexidade e demandas logísticas próprias. No Atlântico Sul, com grandes distâncias e correntes variáveis, a Marinha optou por uma combinação de gestão de energia, silêncio operacional e doutrina que entrega bons resultados sem ampliar a “caixa de ferramentas” de manutenção. O debate segue vivo, especialmente com o avanço de baterias de íon-lítio, que podem oferecer ganhos de disponibilidade sem o mesmo impacto logístico do AIP.
Para que serve, afinal, um submarino nuclear e por que o Álvaro Alberto é estratégico?
Propulsão nuclear significa permanência e velocidade sustentada: o submarino fica mais tempo submerso e reposiciona-se rápido sem “mostrar a cabeça”. Em um litoral longo e com ativos críticos, isso muda a conversa na superfície. O Álvaro Alberto insere os Submarinos da Marinha do Brasil em um patamar de dissuasão que dificulta o planejamento adversário. É projeto de Estado: demanda ciência (CTMSP/LABGENE), segurança rígida e décadas de formação de pessoal. Não é glamour — é método.
O PROSUB entregou de fato transferência de tecnologia ou ficamos montando kits?
Houve transferência substantiva: do projeto de seções de casco à integração de sensores e sistemas, com Itaguaí como sala de aula e chão de fábrica. UFEM, Estaleiro e Base, NUCLEP e uma cadeia de fornecedores nacionais internalizaram processos antes importados. Não faltaram tropeços — reestruturações, cronogramas apertados, pandemia —, mas o ganho industrial e humano é palpável: construir, manter e modernizar com mais autonomia do que há vinte anos.
Quanto custa manter um submarino e como se planeja esse ciclo de vida?
O custo começa no aço e termina no descomissionamento. Entre esses extremos, entram docagens periódicas, trocas de baterias, revisões de sonar, atualizações do sistema de combate e o mid-life upgrade. O caminho saudável é contratar com visão de life-cycle cost, estoque de sobressalentes dimensionado e cronogramas que respeitem a curva de aprendizado. Sem isso, a conta estoura na ponta e a disponibilidade cai — e, em defesa, disponibilidade é poder.

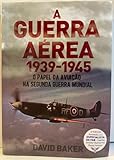


Comments